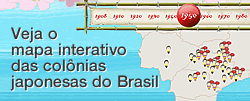Reportagens › Os descendentes dos passageiros do Kasato Maru, cem anos depois
Reportagens › Os descendentes dos passageiros do Kasato Maru, cem anos depois
Os descendentes dos passageiros do Kasato Maru, cem anos depois
NÁDIA KAKU
 Marcos Boeira, Felipe Tani e Fábio Suetsugu: netos e bisneto dos primeiros imigrantes
Marcos Boeira, Felipe Tani e Fábio Suetsugu: netos e bisneto dos primeiros imigrantes
O primeiro grupo de imigrantes japoneses a chegar ao Brasil era formado por 165 famílias. Somavam 781 pessoas, que enfrentaram 52 dias de viagem a bordo do Kasato Maru, entre o porto de Kobe e o de Santos, aonde chegaram em 18 de junho de 1908. A maioria foi enviada a fazendas de café no Estado de São Paulo, mas pouco tempo depois se espalharam, rumo a outras direções. Foram os primeiros de uma população que hoje soma mais de 1,3 milhão de pessoas, entre imigrantes e descendentes.
Os filhos, netos e bisnetos dos passageiros do Kasato Maru fazem parte desses números. A reportagem do site Abril no Centenário da Imigração Japonesa foi atrás dos descendentes do grupo de 1908. Aqui, seis deles contam o que sabem sobre a trajetória de suas famílias desde aquele ano e o que pensam a respeito da aventura em que seus antepassados embarcaram há cem anos. Conheça as histórias:
Links:
Caminho inverso
Uma família de mestiços
Além dos passos do pai
Nomes alterados para poder trabalhar
Tradições repaginadas: Matsuri Dance
A última dos primeiros: Tomi Nakagawa
Arquivo pessoal/Gilmar Nagata
 Hajime e Noki Nagata, avós de Gilmar, saíram de Kagoshima para tentar a vida no Brasil em 1908 |
Arquivo pessoal/Gilmar Nagata Gilmar (à dir.) com a esposa Neusa e a tia Amélia no Japão, onde ele mora há 14 anos |
Quando Hazime e Noki Nagata embarcaram no Kasato Maru, em 1908, nunca poderiam imaginar que, quase cem anos depois, um de seus netos faria o caminho contrário. Gilmar Nagata, 49 anos, natural de Jacareí (SP), é dekassegui e mora na cidade de Kosai, na Província de Shizuoka, há 14 anos.
“Como muitos que vêm para cá, vim na ilusão do dinheiro oferecido, junto com o meu irmão mais novo.” No começo, os problemas foram grandes. “Passamos seis meses só comendo lamen [macarrão instantâneo]”, conta. Só após um ano, com as passagens e as dívidas pagas, as coisas começaram a melhorar: com ajuda de um amigo, Gilmar começou a estudar fotografia, seu sonho da época de colégio. Chegou até a participar de exposições. “Sem saber falar nada em japonês, a gente se comunicava muito bem só com as imagens”, diz. Hoje, ele trabalha no setor de autopeças e faz bicos, montando e fazendo manutenção de computadores.
A descoberta do verdadeiro Japão trouxe algumas decepções. “Desde criança, quando vivia com meus avós, eu adorava ouvir as histórias, me sentia importante porque aqui [no Japão] tinha imperador, príncipes... Quando cheguei, vi que os japoneses não eram os mais inteligentes, o país não era tão moderno, as pessoas eram muito diferentes dos japoneses do Brasil.”
Porém, o Japão das histórias de seus avós ainda traz boas lembranças. Hazime e Noki nasceram em Ibushi, na Província de Kagoshima. Quando desembarcaram em Santos, foram, primeiramente, para o noroeste de São Paulo, mas passaram por diversas cidades. Tiveram seis filhos. Todos receberam nomes brasileiros: Adélia, Harison, Rosa, Amélia, Jayme e Milton. O avô costumava dizer que todos estavam no Brasil e tinham que levar a vida como brasileiros.
“A história que mais sei é a da época da guerra. Eles estavam em Santos (SP) e precisaram largar tudo e sair da cidade. Meu pai e um irmão dele se perderam em meio à confusão e só se reencontraram três dias depois, em São Paulo.” A rotina da família Nagata, na época, se centrava na educação dos filhos e dos netos. Noki ensinou japonês e música a Gilmar, além de culinária japonesa para a mãe dele, Deomar Maria. “Minha avó nunca se adaptou à comida brasileira.”
Hazime gostava de corridas de cavalo e trabalhou como massagista. Apendeu a ler e a escrever em português copiando jornais brasileiros. “Ele tinha uma caligrafia bonita”, lembra Gilmar.
No aniversário de 60 anos de imigração, os avós, junto com outras seis pessoas, foram homenageados pelo governo japonês e ganharam uma viagem ao arquipélago. “Eu tinha uns 10 anos na época e fiquei triste. Achei que minha avó não iria mais voltar.” Quando Noki voltou, após encontrar um irmão, ela disse a Gilmar que o passeio havia sido bom, mas que o Japão tinha mudado muito e que ela não era mais japonesa, mas, sim, brasileira.
Já Hazime, ao rever três primas que tinham cuidado de seus bisavós, passou todos os bens a que tinha direito a elas. “Quando ele me contou isso, eu chorei de tanto orgulho de tê-lo como avô”, conta Gilmar. Da viagem, os presentes e as medalhas ficaram presos na alfândega na hora da volta. Só uma câmera Canon passou pelos fiscais. Anos depois, Gilmar ganhou a relíquia de seu avô.
“Toda a família fica orgulhosa de ser descendente dos primeiros imigrantes, ao relembrar o esforço dos antepassados”, diz Gilmar. Para ele, por mais que a vida atual no Japão seja difícil, a dos seus avós no Brasil foi mais difícil: “Temos tudo aqui nas lojas de produtos brasileiros. Se precisarmos viajar é fácil pegar um trem-bala, um avião ou um carro. Eles viajavam a pé ou de carroça... Houve uma época em que eles nem podiam falar a própria língua. Aqui temos escolas brasileiras e televisão com programação brasileira”.
Uma família de descendentes mestiços

Escola em Embu construída por Massayoshi Maruno; ele foi expulso da primeira fazenda em que trabalhou por ter liderado uma greve
O início da imigração japonesa no Brasil também marca o início da família Maruno, pois foi a bordo do Kasato Maru que Massayoshi Maruno e Natsu Isechi, ambos da Província de Kagoshima, se conheceram. Após passarem por algumas fazendas na capital e no interior paulista, casaram-se em 27 de agosto de 1911.
“Meu avô tinha 33 anos quando chegou ao Brasil. Minha avó veio com 17. A diferença era grande. Meu pai, que era o primeiro filho deles, nasceu só em 1913”, conta a artista plástica Mercedes Maruno Sandy, 74 anos.

Mercedes Maruno, cujos avós se conheceram no Kasato Maru, com a filha Simone e os netos Júlia e Luís Felipe; toda a família é de mestiços
Massayoshi e Natsu tiveram oito filhos: sete homens e uma mulher - a menina morreu ainda bebê. Inicialmente foram para as lavouras de café de Ribeirão Preto (SP). “Eles eram explorados pelos donos da fazenda. No final do mês, a conta do armazém era maior do que o pagamento. Devido a isso, os trabalhadores se insurgiram. Meu avô foi o líder e acabou expulso da fazenda”, diz a advogada Neusa Maruno, prima de Mercedes. Ela acredita que os avós chegaram a sair do Brasil nessa época. “Foram tentar a vida na Argentina. Lá também não deu certo e eles acabaram voltando”.
Mercedes lembra que o avô contava que eram os italianos, na verdade, os briguentos. “Quem começou a fomentar as coisas foram os italianos. Eles ficavam com medo dos japoneses porque achavam que mochi [bolinho de arroz] era bomba.”
Depois da vida nas lavouras, o caminho da vida do casal Maruno é incerto, pois não há relatos ou documentos. “Vovó não trabalhava, não sei do que vovô sobrevivia. Eu sei que, em uma época, ele trabalhou como carpinteiro e depois como marceneiro”, conta Mercedes. A família se instalou em São Paulo, onde a maior parte vive até hoje.
As primas não possuem muitas lembranças de laços com a cultura japonesa na infância. “Minha avó tinha uma meia dúzia de amigas japonesas que às vezes se reuniam para tomar chá. Eu adorava ir junto, pra comer sembei [tipo de biscoito japonês]. Meu avô era um túmulo, não conversava com ninguém. Ele mal falava português”, diz Mercedes.
 O casal Massayoshi e Natsu Maruno, com filhos e amigos
O casal Massayoshi e Natsu Maruno, com filhos e amigosDentro de casa, no entanto, o casal Maruno ainda cultivava alguns rituais budistas. “Eu lembro daquela tradição de tirar o primeiro gohan [arroz] e levar para o butsudan [altar budista que os japoneses costumam ter em casa]”, diz Neusa. Mas, ao mesmo tempo em que preservavam as origens, também freqüentavam a igreja de São Gonçalo. A família inteira foi batizada e recebeu nomes brasileiros. “Vovô passou a se chamar Eduardo; vovó, Maria. Todos os filhos só se casaram com gaijins [não descendentes de japoneses]”, recorda Neusa.
Hoje, a família é toda formada por mestiços. “Cheguei a ter uma crise de identidade. Houve um choque de culturas”, relata Mercedes, que também é descendente de alemão, suíço e russo. Em seu resgate de origens, encantou-se com o filme Gaijin – Os Caminhos da Liberdade (1980), da diretora Tizuka Yamasaki: “Quando vi aquele filme, pensei na minha avó e na vida que tiveram”.
Neusa e Mercedes sentem-se orgulhosas de serem netas dos primeiros imigrantes. “Primeiro foi o pioneirismo, a coragem. Segundo, a capacidade de adaptação. Não foi fácil, eles não falavam o idioma, não conheciam a comida”, diz Neusa. “E influenciaram muito o Brasil”, completa Mercedes. “Eles foram à luta.”
Descendente da quarta geração, o estudante de engenharia Fábio Yukio Suetsugu, 20 anos, pouco conhece da história de seus bisavós paternos, que vieram no Kasato Maru. Dos nomes, só se lembra o do bisavô Kangoru Suetsugu. Dos objetos pessoais, recorda-se de ter visto algumas fotos e o hotokesama [oratório] que o próprio avó construiu.
Vindos da Província de Fukuoka, o casal Suetsugu instalou-se primeiramente em Promissão (na região de Araçatuba, interior de São Paulo) e depois em Tupã, também no Estado de São Paulo. Não há dados sobre a atividade deles no Japão e nem no Brasil. Fábio acredita que, depois de um tempo, seu bisavô vivia de comércio e da renda de aluguéis.
 Fábio Yukio Suetsugu, cujo bisavô, Kangoru, veio no Kasato Maru; a família foi para Promissão e depois para Tupã
Fábio Yukio Suetsugu, cujo bisavô, Kangoru, veio no Kasato Maru; a família foi para Promissão e depois para Tupã“Meu ojiichan [avô] morreu quando meu pai tinha uma semana de vida, então, minha obaachan [avó] e seus filhos viviam de favor na casa da família do meu hiojiichan [bisavô]. Ele sempre foi meio ‘mão-de-vaca’ e só sustentou os netos até eles completarem 14 anos”, conta Fábio, que conta que o bisavô “era umas das pessoas mais ricas de Tupã na época”.
Para se sustentar, então, seu pai, Paulo Sueo Suetsugu, mudou-se para São Paulo, onde seus irmãos já moravam. Fez escola técnica, trabalhava para ajudar nas despesas da casa e entrou na faculdade de engenharia, onde conheceu Iaoi Adma Shikano, que se tornaria sua esposa. Hoje, os dois trabalham no funcionalismo público. “No início da década de 1990, com as diversas crises econômicas, meu pai teve que deixar a engenharia.”
Da sua época de criança, Fábio se lembra das cobranças em relação ao estudo. “Benkyou shinasai, benkyou shinasai” [estude, estude]. Acabou seguindo os mesmos passos do pai: fez escola técnica e hoje trabalha em um emprego público. Mas, dessa vez, a engenharia ganhou seu espaço e Fábio cursa, em uma faculdade pública de Sorocaba, a carreira de que seu pai teve de desistir um dia. Tanto esforço, no entanto, também tem seu preço: a mudança de cidade. “Quase todo o final de semana gostava de ir ao meu kaikan [clube] para encontrar os amigos, agora sinto muitas saudades disso”, conta.
Fábio acredita que nesses cem anos de imigração muita coisa mudou – não só na colônia japonesa, mas no mundo. “O mundo ficou mais liberal, a comunicação ficou mais fácil. O que podemos falar é que não são todos que carregam esse espírito de ser nikkei, mas esse espírito ainda não morreu”, diz.
“Acho que apesar de ter nascido no Brasil, me sinto meio japonês também”. Fábio estuda japonês, é membro da Seicho-no-Ie [seita religiosa de origem japonesa] e gosta de j-pop [música pop japonesa]. Pretende ir ao Japão um dia, para conhecer a terra de seus antepassados ou estudar.
“Aqui virou nossa terra, acho que devemos refletir e olhar para esses cem anos para ver se a nossa vinda para cá valeu a pena. Eu acho que valeu, então façamos um futuro melhor ainda.”
Nomes alterados para poder trabalhar
Como muitos dos japoneses que atravessaram o mundo, Genzo Takeda chegou ao Brasil com a idéia de não ficar muito tempo no Brasil. O menino, que nasceu na Província de Akita, tinha 10 anos na época e veio a bordo do Kasato Maru acompanhando o tio, Chosuke, oficial aposentado da Marinha, natural de Hokkaido.
 Marcos Rosenfield Boeira com o filho; o avô chamava-se Takeda, mas adotou um sobrenome português para poder trabalhar
Marcos Rosenfield Boeira com o filho; o avô chamava-se Takeda, mas adotou um sobrenome português para poder trabalharAssinando Boeira no lugar de Takeda, armado com um dicionário de português-japonês, um só de português, alguns livros de literatura brasileira, matemática e história do Brasil e muita dedicação, Genzo – o máximo que ele conseguia falar em português, no começo, era “Brajir” – se tornou advogado e chegou a trabalhar como juiz no Paraná e no Rio Grande do Sul.
Quando casou, sua esposa, Natsu Sato, também adotou o sobrenome e assinava Aladya Boeira. Eles nem imaginavam que tudo isso iria ajudar mais tarde. “Quando o Japão perdeu a guerra, tudo ficou mais difícil para os japoneses, mas, por causa do sobrenome, meu pai e seus irmãos não sofreram muito”, diz Marcos.
Porém, se por causa da mudança do nome problemas foram evitados, pela religião, a história foi um pouco diferente: “Minha família segue o xintoísmo. Meu pai estudou em colégio católico e muitas vezes foi ameaçado de ser expulso por não acreditar no Deus cristão”, conta. Apesar de tudo, a maior parte da família Takeda segue até hoje o xintoísmo. “Alguns, como meu pai, são budistas, e só a minha avó é católica.”
Natural de Porto Alegre (RS), Marcos freqüenta o seinenkai (associação de jovens) da região até hoje. Quando criança, morou no Japão, pois seu pai foi dar aula na Universidade de Tokyo. Hoje, quase toda sua família conhece o arquipélago e fala japonês fluentemente. “Nenhum de nós deixou de praticar o Takeda-ryu, arte marcial que meu avô ensinou a todos”, completa.
Quanto ao fato de ser descendente de um dos pioneiros da imigração, o sentimento é de admiração. “Todos preservamos a memória de que nosso avô foi um dos primeiros a vir ao Brasil e o admiramos por ter conseguido fazer tudo o que fez por ele e por nós, sozinho.” Marcos conta que a família já tentou voltar a se chamar Takeda, mas não conseguiu por razões jurídicas. “Hoje meus tios não têm mais interesse em trocar de volta para Takeda, pois já fizeram suas carreiras como Boeira”, conta.
Para ele, a preservação das origens depende das gerações futuras: “O problema futuro não será lembrar das histórias dos pais e dos avós, mas sim fazer uma nova história, sem esquecer tudo que seus ancestrais passaram para estarmos onde estamos”.Tradições repaginadas: Matsuri Dance

Felipe Tadashi Tani, cujos avós vieram da Província de Okayama, visitou o Japão e conheceu suas origens
Para o gerente de produto Felipe Tadashi Tani, só o fato de ser descendente de pessoas que largaram tudo para trás e vieram tentar a vida do outro lado do mundo já faz com que ele tenha orgulho de suas origens. O sentimento é maior quando o assunto são seus avós Yosuke e Masume Tani, que chegaram ao Brasil em 1908, ainda crianças.
Naturais da Província de Okayama, Yosuke e Masume instalaram-se em São Paulo e trabalhavam como agricultores. Tiveram oito filhos. “Acredito que a maior dificuldade na adaptação foi o preconceito e a barreira lingüística, pois eles morreram sem ter aprendido a língua portuguesa”, diz Felipe.
As lembranças de família, no entanto, param por aí. Felipe não tem mais informações de como era a vida de seus antepassados. Porém, isso não significa que a cultura japonesa não faça parte de sua rotina. “Meus pais praticam alguns costumes japoneses. Um deles é comer ozoni [um tipo de sopa com mochi, bolinho de arroz] no Ano Novo”.
A preservação de sua origem também se mostrou forte nas quatro vezes em que esteve no Japão. “Em 2002 fui estagiário de engenharia por dez meses em Okayama. Foi importante conhecer as minhas origens e encontrar pessoas que, apesar de desconhecidas, eram meus parentes. Enfim, saber de onde eu vim. Acho que uma pessoa que não conhece o seu próprio passado está sem um grande pilar de sustentação em sua vida.”
Para ele, a cultura tradicional está mudando, em grande parte, pelas mãos de jovens brasileiros. E isso não é ruim. “Meus avós não mudaram o jeito de viver ao longo da vida. As novas gerações ainda praticam algumas tradições, como o ikebana e o kirigami, mas acho que o mais importante é que estas tradições estão evoluindo de uma forma diferente da do Japão”. Como exemplo, ele cita o “matsuri dance”, um tipo de dança que surgiu entre jovens descendentes no Brasil e que mescla passos da dança folclórica bon-odori com o ritmo da música pop japonesa atual. “Não me recordo de ter visto matsuri dance por lá, no Japão”, diz.A última dos primeiros: Tomi Nakagawa

Kiyoshi (sentado, à esq.) com a mãe, Tomi, a esposa, Adélia, e os filhos Heitor (em pé, à esq.) e Agnes
“Minha mãe sempre nos dizia que a maior dificuldade dos imigrantes pioneiros foi a diferença cultural, a língua desconhecida e a alimentação, já que não havia arroz e o pessoal da época somente conhecia a farinha de mandioca e a de milho”, conta o engenheiro Kiyoshi Nakagawa, 57 anos, filho de Tomi Nakagawa. Tomi ficou conhecida por ter sido a última passageira ainda viva do Kasato Maru. Ela faleceu em 2006, aos 99 anos de idade.
Com apenas 1 ano e 8 meses, a pequena Tomi embarcou com os pais, Mitsuji e Kiyo Nishimura, e as irmãs, Koto e Tomo, rumo ao Brasil, em 28 de abril de 1908. Natural de Tamana, Província de Kumamoto, os Nishimura foram encaminhados para as lavouras de café da fazenda Santos Dumont, na região de Ribeirão Preto (SP).
 Tomi Nakagawa, em foto de 2004; ela veio no Kasato Maru com 1 ano de idade e faleceu às vésperas de completar 100 anos
Tomi Nakagawa, em foto de 2004; ela veio no Kasato Maru com 1 ano de idade e faleceu às vésperas de completar 100 anosApós cinco anos sem acumular grandes resultados, a família se mudou para São Paulo, onde Mitsuji começou a trabalhar como marceneiro e Kiyo conseguiu um emprego em uma fábrica de tecelagem. Nessa época, com o nascimento de Mitsuo, Mitsuyoshi e Mitsuyuki, a família de Tomi aumentara para oito pessoas.
Em 1918, a convite de Shuhei Uetsuka, representante da Companhia Imperial de Colonização (empresa responsável por conduzir os imigrantes a seus locais de trabalho), todos se mudaram para o município de Promissão (oeste paulista), onde fundaram uma colônia japonesa. Uetsuka, considerado o pai da imigração no Brasil, foi vizinho dos Nishimura por muitos anos.
Porém, como a plantação de milho e feijão não vingou, Kiyo e Mitsuji resolveram voltar para o Japão, levando os dois filhos homens mais velhos, em 1928. No mesmo ano, Tomi se casou com Massagi Nakagawa e adotou o sobrenome do marido. Tiveram oito filhos e moraram, além de Promissão, em Marília (SP), Cambé (PR) e Londrina (PR).
Tomi gostava de assistir televisão, passear, cantar (em português e japonês), acompanhar undokais (gincana esportiva) na Associação Cultural e Esportiva de Londrina (Acel) e chegou a praticar gateball. “Mantemos algumas tradições até hoje: religião, os costumes do Ano Novo e outras celebrações”, conta Kiyoshi.
Tomi voltou ao Japão duas vezes: para encontrar um dos irmãos, em 1960, e para cuidar da saúde do marido, que acabou falecendo no arquipélago em 1980. Às vésperas de seu 100º aniversário, faleceu enquanto dormia em casa, no dia 11 de outubro de 2006 – seu aniversário seria no dia 15. Deixou 30 netos, 37 bisnetos e três tataranetos.
Kiyoshi, que adora a culinária oriental, diz que nos dias de hoje, o fenômeno é inverso: “O Brasil de hoje é o reverso daquela época: milhares de brasileiros indo para o Japão como dekasseguis”. Para ele, as comemorações do centenário podem ajudar no resgate e na valorização das origens. “Acredito que o centenário será muito importante para os mais jovens conhecerem um pouco da história e a cultura dos nossos antepassados”, diz. Quanto à suas próprias raízes, ele conta que a família Nakagawa se orgulha em ser descendente de pessoas que vieram no primeiro navio. “Acreditamos fazer parte também da história da imigração.”
veja mais
Casamentos nipo-brasileiros adaptam e resgatam tradições dos dois paísesFilhos de dekasseguis: educação de mão dupla
Over Moyashi – reinvenções de um Japão inventado e brasileiro
Japão Pop Show
Arte e cultura japonesas
Do Oriente para o campo
De A a Z - 100 legados japoneses
Nipo-brasileiros estão mais presentes no Norte e no Centro-Oeste do Brasil
Tempurá misto
Sushi de salmão, atum e kani

Os japoneses chegaram aqui há um século. Desde junho de 1908, muita coisa aconteceu. Ajude a resgatar essa memória.
Conte sua história em vídeos, fotos, áudios e texto Monte a árvore genealógicade sua família
Blog da Redação
Os próximos passosO ano do centenário está terminando, e este site vai mudar. Convidamos todos a continuarem participando!
Leia mais

Meu Japão
Brasileiros sem-tetoEu e o Ewerthon escrevemos uma reportagem para a BBC Brasil sobre os brasileiros sem-teto no Japão.
Leia mais

Cultura Pop
MundoOs brasileiros estão se adaptando ao Japão. E os japoneses sempre lembram que o Brasil é parte da BRIC.
Leia mais

14 abr - 2 jul
Ciclo de cinema japonêsA vida dos samurais, suas aventuras e código e ética são tema do novo ciclo “Sempre Cinema”, da Fundação Japão.
Saiba mais

23 mai - 24 mai
Bazar do BemMais de 30 expositores vendem produtos variados, de brinquedos a artesanato
Saiba mais

27 nov - 5 dez
Dança, música e cantoEspetáculo de bugaku hoe reúne manifestações culturais tradicionais do Japão, como o canto de monges budistas.
Saiba mais


Este projeto tem a parceria da Associação para a Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil