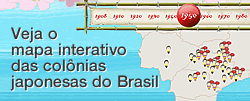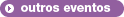Reportagens › Amazônia oriental
Reportagens › Amazônia oriental
Amazônia oriental
TEXTO E FOTOS POR CALÉ

Um campo de golfe na Amazônia? Este foi aberto pelos japoneses de Tomé-Açu – e é mais uma peculiaridade da colonização nipônica na floresta
Há quase 80 anos, imigrantes japoneses estabeleceram no Pará uma colônia que definiu uma floresta diferente – onde se joga golfe e beisebol e onde se cultiva sem agredir
Tomé-Açu é um lugar de experiências ímpares. Em que outra cidade do mundo, por exemplo, alguém provaria um genuíno jantar nipo-amazônico (entrada: sashimi de peixes de água doce; prato principal: caldeirada de pescados com tucupi e jambu)? Nas varandas, pares de sapato aguardam por seus donos, que, seguindo o costume japonês, só entram descalços em seus lares. Ao visitante recém-chegado logo é oferecido suco de mangustão, fruta do sudeste asiático cujo sabor raro lhe conferiu a fama de “rainha de todas as frutas”. Também curiosas são as bolinhas de golfe espalhadas pelo gramado em frente às casas. Como se o golfe fosse um esporte típico do interior do Pará.
As coisas, de fato, há quase 80 anos são um tanto exóticas nos arredores do município paraense, sobretudo nos distritos rurais de Quatro-Bocas e Jamic, onde se concentram as cerca de 300 famílias descendentes da segunda onda de colonização japonesa no Brasil – a primeira desembarcou em São Paulo em 1908. Os nipônicos que escolheram a Amazônia como refúgio foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do Pará, principalmente com o cultivo da pimenta-do-reino. E ainda hoje estão na vanguarda da atividade, praticando uma agricultura sustentável em plantações que mais parecem matas nativas. “Os brasileiros da região só desmatam, abrem pastos e acabam com a terra e os igarapés. Nós plantamos pimenta e cacau em harmonia com a floresta”, conta o fazendeiro Tomio Sasahara, de 67 anos.

Um caminhão de toras (acima) passa por Tomé-Açu – os japoneses têm problemas com os madeireiros ilegais que invadem suas áreas de cultivo
Nos seis primeiros anos mais de 600 famílias estabeleceram-se em Tomé-Açu, mas o cultivo extensivo de cacau não deu certo – os japoneses não sabiam que a árvore precisa de proteção contra o vento. Decidiram então dedicar-se ao arroz e às verduras, revendidos em Belém. “Chamavam nossa turma de ‘nabos’, pois a gente só comia nabo mesmo”, lembra-se Yamada. Foram anos difíceis, agravados com a chegada da malária, que sempre aparece dois ou três anos depois que se abre a mata. Os imigrantes sofriam mais do que os nativos – sua dieta pobre em proteínas deixava-os mais vulneráveis à doença. Tomé-Açu passou a ser conhecida como “o inferno da Amazônia”, e muitas famílias mudaram-se para Belém e São Paulo simplesmente para escapar da morte.
Com o fracasso do projeto e a falência da Companhia Nipônica, apenas 40 famílias insistiram em ficar na região. Parecia o fim. Mas a sorte de Tomé-Açu começou a mudar pouco antes do início da Segunda Guerra, quando um navio carregado de novos imigrantes japoneses rumo ao Brasil fez uma parada de emergência em Cingapura. Um dos futuros colonos comprou ali 20 estacas de pimenta-do-reino, das quais somente duas sobreviveram à viagem. Foi o bastante: a frutinha espalhou-se pela colônia ao mesmo tempo em que as fazendas do sudeste asiático se transformaram em campos de batalha e toda a infra-estrutura para escoar a produção foi destruída.

Na cidade, no pequeno museu da associação cultural, estão expostos objetos trazidos pelos primeiros imigrantes, entre eles Kumao Hayashi, de 95 anos
No pós-guerra, a demanda por pimenta era tão grande que ela chegou a ser conhecida como “diamante negro”. Os negócios em Tomé-Açu enfim prosperavam, mas a vida continuava difícil. Os novos colonos chegavam sem nenhuma reserva de dinheiro e tinham de submeter-se a um regime de trabalho árduo para seus empregadores por até quatro anos, tempo médio necessário para comprar um lote de terra e começar sua própria cultura. E era necessário 12 horas de barco para ir e 18 horas para voltar de Belém.
No fim da década de 1960, as plantações de pimenta começaram a sofrer com a fusariose, uma moléstia causada por um fungo que faz a planta amarelar e morrer. Quando novo período sombrio parecia se anunciar no horizonte de Tomé-Açu, a praga acabou por germinar o modelo de agricultura sustentável praticado pelos japoneses desde então. “Foi observando o caboclo nativo e seu canteiro com diversas frutas que meu pai percebeu a fragilidade da monocultura. Na natureza, quando uma planta fica doente, as plantas de outras espécies que estão ao redor funcionam como uma barreira natural, evitando a propagação”, explica Francisco Sakaguchi, filho de Noburo Sakaguchi, um dos pioneiros daquilo que se convencionou chamar de agrofloresta.
Hoje, Francisco e Noburo – que chegou ao Pará em 1956 com 23 anos e 14 dólares no bolso – costumam dar palestras sobre o tema, até mesmo no exterior, explicando como é possível melhorar a produtividade e preservar o ambiente. A agrofloresta funciona em longos ciclos. Num primeiro momento, a pimenta-do-reino é plantada com culturas de alta rotatividade, como arroz e feijão. Após três anos começa-se a plantar cacau, açaí, acerola, cupuaçu e madeiras nobres, como o mogno. Com cinco anos a pimenta invariavelmente morre de fusariose – e a agrofloresta toma conta. Planta-se pimenta em outro local e o ciclo recomeça. “Estudamos agora como plantar sem quebrar a estrutura do solo, ou seja, sem derrubar nada da mata original”, conta Francisco.

Noburo Sakaguchi é um dos pioneiros das chamadas agroflorestas, plantações – como as de acerola – que crescem em simbiose com áreas reflorestadas. Noburo, que chegou ao norte do Pará em 1956 com 14 dólares no bolso, é um exemplo de sucesso: hoje dá palestras explicando como é possível melhorar a produtividade da terra e preservar o ambiente

Os amigos e as netas de Tomio Sasahara reúnem-se nos fins de semana para um churrasco servido entre mergulhos nas águas claras do igarapé mais famoso da região, nas terras do fazendeiro. A diversão atual contrasta com as agruras de épocas anteriores. “Os primeiros anos foram muito difíceis”, lembra-se Sasahara
Logo cedo, na Associação Cultural de Quatro Bocas, jovens começam a pendurar lanternas e construir a torre onde será instalado o taiko, o tradicional tambor japonês que vai ditar o ritmo da festa. Ao entardecer, as pessoas começam a chegar, vindas das fazendas. Muitas mulheres usam trajes típicos, como quimonos e yukatas, uma vestimenta mais casual feita de algodão leve. Depois, quando a música começa, lentamente a Amazônia vai ficando mais próxima do Japão. Algumas senhoras puxam a fila de dançarinos, que formam um círculo com suas coreografias em volta da torre. Os gestos são lentos e delicados – talvez por isso a maioria dos homens só se aventure na roda após alguns copos de cerveja. À medida que mais pessoas aderem à dança, o círculo completa-se e outros são posteriormente formados. Logo, centenas de pessoas estão dançando ao ritmo das músicas orientais reforçadas pela batida incessante do taiko. Todos, japoneses ou não, são conduzidos a uma improvável viagem à terra do sol nascente. É então que, no meio da grande celebração cultural da comunidade, fica clara uma confusão de identidades entre as antigas e as novas gerações de Tomé-Açu. Basta apurar os ouvidos para perceber: apenas os mais velhos, nascidos no Japão, falam japonês fluentemente, e somente os mais jovens comunicam-se num português límpido. No meio deles, existem duas ou três gerações – nisseis e sanseis – que falam as duas línguas, mas nenhuma com primor. “É uma situação estranha”, resigna-se Nelson Masayuki Futatsumori, engenheiro agrônomo de 34 anos. “Por que aqui nós somos considerados japoneses, mas no Japão somos vistos como brasileiros?”

Um sansei dança com uma garota brasileira em um baile de brega, ritmo típico paraense. A comunidade já teve uma população com maior índice de jovens, mas questões econômicas pressionaram muitos deles a tentar a sorte na terra de seus ancestrais – hoje, uma questão que pode decidir o futuro de Tomé-Açu
“Quero ir logo para o Japão ganhar dinheiro para fazer uma faculdade”, emenda a jovem Assami Sugimoto enquanto bebe um tacacá, a bebida paraense à base de goma de tapioca – ou seja, uma espécie de missoshiru amazônico. Assim como ela, a cada ano, cerca de 10 a 15 pessoas da cidade mudam-se para o Japão, na maioria jovens em busca de melhores oportunidades. São os chamados dekasseguis, e fazem o caminho inverso dos fundadores das colônias de Tomé-Açu. Muitos não voltam nunca mais, invertendo definitivamente o fluxo migratório de seus avós. “Para meus netos deve ser muito mais difícil do que foi para mim”, avalia Kumao Hayashi, um senhor de 98 anos que chegou no segundo navio de imigrantes e viveu cada instante da ocupação local.
As superações históricas dessa colônia, de fato, imprimem uma grandeza épica aos seus personagens. Num mundo que não os entende nem como brasileiros nem como japoneses, os tomé-açuenses encontraram um lar no coração da Amazônia, o território livre onde puderam semear suas idéias e criar suas famílias – muitas, contudo, separadas. “Na hora em que mais precisei da minha mãe ela estava no Japão”, diz Cleonice Key Mishida, de 24 anos. “A situação econômica fez com que muitos emigrassem. Meus dois irmãos estão lá.” Depois de tantas adversidades já enfrentadas – a malária, a fome, as pragas nas plantações –, este parece ser o novo desafio no caminho do povo de Tomé-Açu.
veja mais
Casamentos nipo-brasileiros adaptam e resgatam tradições dos dois paísesFilhos de dekasseguis: educação de mão dupla
Over Moyashi – reinvenções de um Japão inventado e brasileiro
Japão Pop Show
Arte e cultura japonesas
Do Oriente para o campo
De A a Z - 100 legados japoneses
Nipo-brasileiros estão mais presentes no Norte e no Centro-Oeste do Brasil
Tempurá misto
Sushi de salmão, atum e kani

Os japoneses chegaram aqui há um século. Desde junho de 1908, muita coisa aconteceu. Ajude a resgatar essa memória.
Conte sua história em vídeos, fotos, áudios e texto Monte a árvore genealógicade sua família
Blog da Redação
Os próximos passosO ano do centenário está terminando, e este site vai mudar. Convidamos todos a continuarem participando!
Leia mais

Meu Japão
Brasileiros sem-tetoEu e o Ewerthon escrevemos uma reportagem para a BBC Brasil sobre os brasileiros sem-teto no Japão.
Leia mais

Cultura Pop
MundoOs brasileiros estão se adaptando ao Japão. E os japoneses sempre lembram que o Brasil é parte da BRIC.
Leia mais

14 abr - 2 jul
Ciclo de cinema japonêsA vida dos samurais, suas aventuras e código e ética são tema do novo ciclo “Sempre Cinema”, da Fundação Japão.
Saiba mais

23 mai - 24 mai
Bazar do BemMais de 30 expositores vendem produtos variados, de brinquedos a artesanato
Saiba mais

27 nov - 5 dez
Dança, música e cantoEspetáculo de bugaku hoe reúne manifestações culturais tradicionais do Japão, como o canto de monges budistas.
Saiba mais
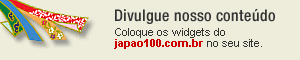

Este projeto tem a parceria da Associação para a Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil